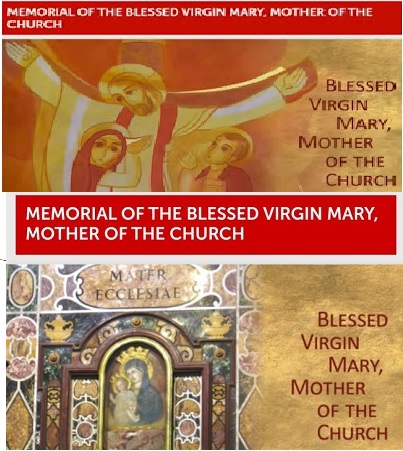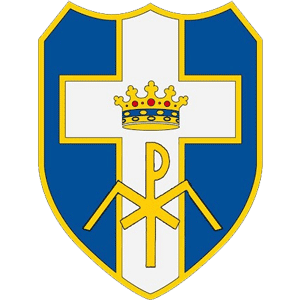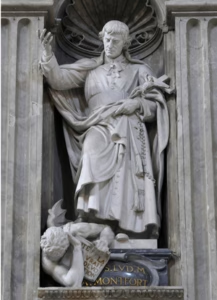Por que mudaram a data da Festa de Cristo Rei?
Fonte: Wanderer
Artigo do Wanderer:
Há 100 anos, em 11 de dezembro de 1925, o papa Pio XI afirmava, no nº 30 da encíclica Quas Primas: “com nossa autoridade apostólica instituímos a Festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei e decretamos que ela seja celebrada em todas as partes da terra no último domingo de outubro, isto é, no domingo que imediatamente antecede a festa de Todos os Santos”.
A reforma litúrgica de 1969 muda essa festa e coloca no último domingo do ano litúrgico outra solenidade. “No último domingo do ano celebra-se a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, em substituição da festa instituída pelo Papa Pio XI em 1925 e atribuída ao último domingo de outubro. Por essa razão, ressalta-se ainda mais o significado escatológico desse domingo.” (Calendarium Romanum Generale, 1969, Solenidades móveis do “tempo comum”).
Parece que o texto é bastante claro. A reforma muda a festa e o seu sentido: “em lugar da festa instituída por Pio XI”. O peso está em “em lugar de”, isto é, “em substituição de”.
Não se trata simplesmente de mudar o dia da celebração de uma mesma festa, como acontece com Santo Inácio de Antioquia, que passa do dia 1º de fevereiro no calendário tradicional para 17 de outubro no calendário reformado. O que chama atenção é a mudança do sentido da festa, e isso se lê de modo explícito no texto do novo calendário: “Desse modo, coloca-se também mais em relevo o significado escatológico deste domingo”. Os textos litúrgicos ao final do ano litúrgico assumem um caráter escatológico. Esta é a razão dada na reforma para a mudança de data. Na Quas Primas, Pio XI havia introduzido a Festa de Cristo Rei com outra significação. Ele mostra a antiga tradição de chamar Cristo de Rei com base no Antigo e no Novo Testamento e na liturgia. Expõe que essa dignidade real se funda na União Hipostática e na Redenção. Depois trata do caráter dessa realeza, mostrando a tríplice potestade de Cristo: Redentor, Legislador e Juiz. Finalmente, mostra que o âmbito dessa realeza abrange o espiritual e o temporal, tanto nos indivíduos quanto na sociedade.
São duas festas, cada uma com sua própria formalidade e seu próprio sentido. Uma e outra nos levam a refletir sobre um aspecto desse Rei tão glorioso. Não se repelem. Aliás, ao longo do ano litúrgico há outras festas dedicadas a Nosso Senhor (por exemplo: a Encarnação, o Nascimento, a Circuncisão, a Apresentação no Templo, o Batismo). Surge então a pergunta: por que não introduzir uma nova festa, em vez de substituir uma pela outra?
Buscando razões
Ao tentar compreender o motivo da mudança, apresentarei algumas reflexões que talvez possam ajudar a esclarecer a questão. Uma delas está relacionada a uma mudança na concepção da teologia da história. Quando, pela força da revelação, rompe-se a concepção circular de história própria do mundo antigo, a visão católica entende a história orientada para um fim meta-histórico. Mais tarde, e fora do âmbito católico, surgiram filosofias da história que refletiram sobre o curso da história e seu fim. Elas assumem da concepção católica a orientação para um fim, mas descrevem esse percurso e esse fim de modo diferente. No campo teológico, a concepção luterana apresenta diferenças marcadas em relação à católica, porque os princípios antropológicos e metafísicos de Lutero diferem da doutrina católica.
No caso de Lutero, como cabeça do movimento, encontramos ideias que exercem grande influência em seus seguidores. Em posição central deve-se colocar sua concepção exagerada das consequências do pecado original: para Lutero, a natureza humana está destruída. De tudo o que se segue disso, tomarei alguns aspectos. Em primeiro lugar, ele nega ao homem o livre-arbítrio: “O livre-arbítrio após o pecado é apenas uma questão de título; e enquanto faz o que está em suas forças, peca mortalmente.” Na nossa natureza destruída pelo pecado original, não apenas a vontade — cujo arbítrio passa de livre a servo — é afetada, mas também a inteligência, impossibilitada de conhecer a verdade. Além disso, o pensamento de Lutero é influenciado pelo nominalismo de Ockham; assim, privada de sua capacidade de penetrar na natureza das coisas, a inteligência não pode fazer metafísica. Outra ideia importante em Lutero é sua concepção de um Deus longínquo, cuja transcendência é acentuada de tal modo que Ele se torna inacessível ao homem. Lutero também não consegue conciliar a onipotência de Deus com o livre-arbítrio; daí a sua tese do “arbítrio servo”. Para ele, se Deus é onipotente, o homem não pode ser livre, pois se o fosse haveria algo que escaparia à onipotência divina; portanto, se Deus é onipotente, o homem não pode ser livre.
Como consequência desse nominalismo de base, a teologia luterana não possui um pensamento filosófico sólido que lhe sirva de fundamento. Historicamente, vê-se que a teologia luterana utilizou diferentes sistemas filosóficos em diversas épocas como base para suas reflexões teológicas. Assim, em determinado momento foi racionalista; em outro, idealista; mais tarde influenciada pela teologia liberal de Schleiermacher, pela teologia dialética de Barth, pelo existencialismo, e assim segundo a filosofia em voga.
Essa busca, comum na história da teologia luterana, também começa a aparecer na teologia católica no fim do século XIX: a procura por filosofias que não constituem um suporte adequado para refletir sobre a fé. (O motivo dessa busca exigiria outra análise.) Deve-se acrescentar também que a teologia católica começa a ser influenciada pela teologia luterana, influência que se torna mais marcada ao longo do século XX. Já percorrido um quarto do século XXI, parece difícil negar essa influência. E dito de passagem: essa influência não estaria muito distante do pensamento de padres conciliares, se considerarmos alguns documentos — mas sobretudo o onipresente “espírito do concílio”, em nome do qual vemos, na prática, em que se tornaram o ecumenismo e a degradação da liturgia.
A mudança
Para a cosmovisão luterana, por tudo o que dissemos, a história se move neste horizonte: o homem não age de modo livre; Deus está distante do homem; e as consequências do pecado original formam um mundo no qual não é possível praticar o bem. Nesse contexto, o curso da história tende sempre ao pior. Só no final, numa perspectiva escatológica, aparece o triunfo de Deus.
O giro a que me referi acima — como tentativa de explicar a substituição da Festa de Cristo Rei — não posso afirmar categoricamente que tenha sido consciente — é um movimento em direção a uma concepção luterana da história. Nesse contexto, o Cristo Rei de que fala Pio XI na Quas Primas não tem lugar. Resta apenas a espera escatológica.
Entre Lutero e nós se passou muito tempo, e a teologia luterana percorreu seu próprio caminho. Por isso tomo como referência alguns fragmentos de teólogos luteranos contemporâneos à época conciliar.
Jürgen Moltmann, em Conversão ao Futuro, afirma: “Portanto, o ‘futuro’ deve ser pensado como o modo de ser de Deus entre nós e conosco.”
As reflexões de Moltmann aproximam-se da obra de Ernst Bloch, O Princípio Esperança. Bloch, filósofo neomarxista, tem uma concepção imanentista na qual o fim da história não é transcendente nem ocorre pela manifestação última do triunfo de Deus. Essa filosofia é incompatível não apenas com a visão católica, mas também com a luterana. No entanto, Moltmann tenta explicar sua fé nessa perspectiva. E com o que nos deparamos? Com a afirmação de que o futuro é o modo de ser de Deus. Se o futuro é o modo de ser de Deus, não fica claro o lugar da transcendência divina, uma vez que “futuro” implica temporalidade. Mas o Deus católico é transcendente, distinto do mundo, eterno. E na eternidade de Deus não há passado, presente ou futuro. Deus está além do tempo. Nessa perspectiva, cada época e cada homem estão igualmente “próximos” de Deus. Dizer o contrário seria conceber a história como um percurso no qual os últimos desfrutam do que construíram os primeiros (como nas filosofias iluministas), ou um percurso rumo ao pior (como na concepção luterana), no qual só resta ser resgatado na Parusia.
“Portanto, a divindade de Deus começa a manifestar-se e a tornar-se real com a vinda de seu senhorio ilimitado. Crer que Deus é Deus implica necessariamente esperar que o futuro de seu Reino e de sua plena identidade chegue ao mundo.”
Sabemos pela revelação que a plenitude da divindade não se manifesta neste mundo. Vemos aqui como num espelho, ensina São Paulo. Essa plenitude se manifestará apenas na Parusia. Entretanto, Deus se manifesta por suas obras, e é por elas que chegamos a conhecê-lo. Também sabemos que, como Criador, Ele está presente às criaturas, sustentando-as no ser e governando-as pela providência. E pela fé temos certeza de que Ele está presente de modo singular no Santíssimo Sacramento. Portanto, é preciso distinguir a presença de Deus da manifestação visível de sua glória. Sua divindade não começa a “ser real” com a vinda do Reino: a Parusia não faz Deus tornar-se real. Assim, se a divindade “começa a manifestar-se” apenas com a vinda do Reino, entende-se que nessa concepção o mundo esteja como que órfão de Deus, e que só reste esperar seu reinado no fim da história. Nessa linha do Deus-futuro, é curiosa a expressão introduzida na liturgia renovada quando, logo após a consagração, o povo aclama: “Anunciamos a tua morte, proclamamos a tua ressurreição. Vem, Senhor Jesus”. Se Ele está presente no altar, por que pedir que venha?
Identificar com precisão quais teólogos luteranos estão mais diretamente atrás dessa influência exigiria um estudo que supera o escopo de um blog: seria Barth, com sua teologia dialética que rejeita explicitamente a analogia e proclama a absoluta transcendência de Deus diante da miséria humana? Seria Gogarten, com sua visão do cristianismo como causa da secularização? E poderíamos continuar.
Para concluir, vale a observação do Pe. Castellani em Domingueras prédicas, comentando a frase correspondente à Festa de Cristo Rei: “Meu reino não é deste mundo” (Jo 18,36). Ele explora os três sentidos de “deste mundo” para explicar: “Meu reino não procede deste mundo, está neste mundo e vai deste mundo ao outro”. Portanto, não é necessário recorrer a um Cristo meramente cosmológico. O reino de Cristo, embora não proceda daqui, está aqui — razão pela qual Pio XI lhe dedica uma festa — e se dirige ao outro mundo.